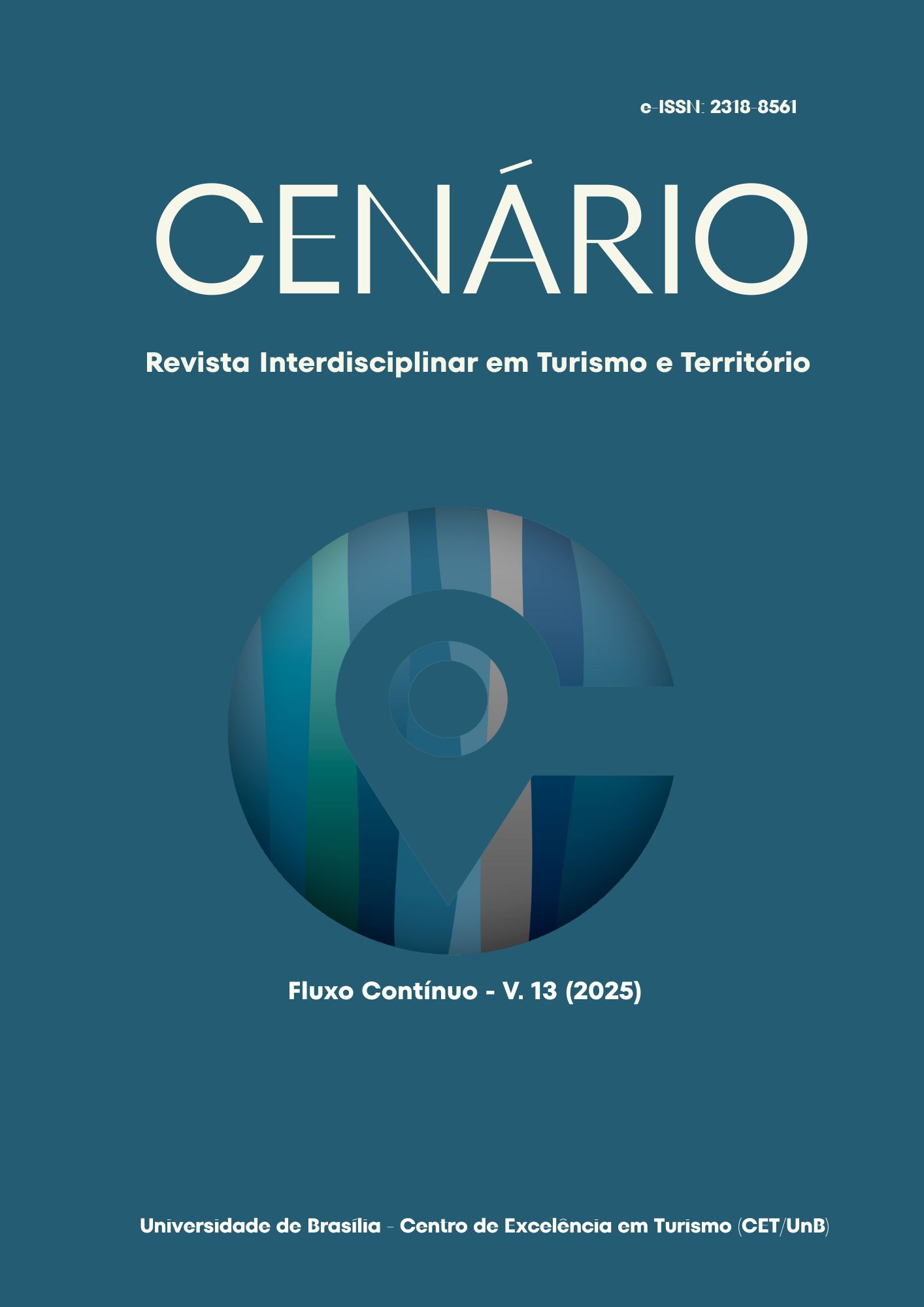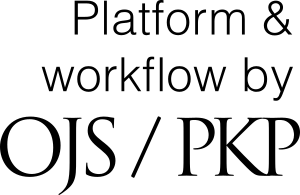Os Museus de Ciência e a Comunicação com o Público Turístico em Tempos de Pandemia
Palavras-chave:
Turismo, Museus de Ciência, Comunicação Científica, COVID-19, Teoria Semiolinguística de Análise do DiscursoResumo
A relação entre o homem e os museus remonta à Grécia Antiga, quando eram Templos das Musas. Desde então, os museus evoluíram, mas mantiveram-se como espaços voltados ao conhecimento. Com o desenvolvimento do turismo, tornaram-se atrativos culturais, elevando as visitas. Entre suas tipologias, os museus de ciência destacam-se por comunicar conhecimentos científicos ao público. Durante a pandemia de COVID-19, com o isolamento social e o fechamento de museus, essas instituições adaptaram-se às redes sociais, como o Instagram, para manter contato e divulgar informações científicas confiáveis. Este estudo analisou as publicações dos perfis do Museu de Microbiologia e do Museu de Astronomia e Ciências Afins durante a pandemia, utilizando teorias semióticas e discursivas. Observou-se que o Museu de Microbiologia se destacou na comunicação científica, enquanto o Museu de Astronomia enfrentou mais desafios em atingir o público leigo.Downloads
Referências
Albino, T. P. (2004). O museu como espaço de educação intercultural. VIII Congresso Luso-afro-brasileiro de Ciências Sociais.
Allard, M. et al. (1996). La visite au musée, in Réseau. In BERNSTEIN, B. A estruturação do discurso pedagógico: classe, códigos e controle. Petrópolis: Editora Vozes.
Barbosa, L., & Campbell, C. (2006). Cultura, consumo e identidade. Rio de Janeiro: FGV Editora.
Barretto, M. (2008). Os museus e a autenticidade no turismo. Itinerarium, 1, 42-42.
Bento, D. C.; Amaral, S. R.; Kauark, F. S. (2020). Museus de Ciência: Espaços de Constru-ção do Conhecimento e Alfabetização Científica. In: Congresso Internacional de Educa-ção e Tecnologias| Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância (eds.) Anais do CIET: EnPED
Bizerra, A.; Marandino, M. (2009) A concepção de “aprendizagem” nas pesquisas em edu-cação em museus de ciências. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ci-ências. Anais do VII ENPEC
Bortoletto, L. (2013). Museus e centros de ciências como espaços educativos não formais. Atas do IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências.
Bourdieu, P., Darbel, A. (2016). O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu público. Porto Alegre: Editora Zouk.
Brullon Soares, B. C. (2011). O rapto das Musas: apropriações do mundo clássico na invenção dos museus. Anais no Museu Histórico Nacional, 43, 41-65.
Bueno, W. C. (2010). Comunicação cientifica e divulgação científica: aproximações e rupturas conceituais. Informação & informação, 15(1esp), 1-12.
__________. (1985). Jornalismo científico: conceitos e funções. Ciência e cultura, 37(9), 1420-1427.
Camargo, L. O. L. (2005). Hospitalidade. (2ª ed.). São Paulo: Aleph. Coleção ABC do Turismo.
Campbell, C. (2006). Eu compro, logo sei que existo: as bases metafísicas do consumo moderno. Cultura, consumo e identidade. Rio de Janeiro: FGV, 47-64.
Castellanos Pineda, P. (2008). El museo y la Sociedade. In: Castellanos, Pineda, P. Los Mu-seos De Ciencias Y El Consumo Cultural: uma mirada desde la comunicación. Barcelo-na: Editorial UOC.
Castilho, K., & Martins, M. M. (2005). Discursos da Moda: semiótica, design, corpo. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi.
Cerati, T. M., & Marandino, M. (2013). Alfabetização científica e exposições de museus de ciências. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, (Extra), 771-775.
Charaudeau, P. (1983). Langage et discours: Éléments de sémiolinguistique (théorie et pratique). (No Title).
__________. (1984). Une théorie des sujets du langage. Langage & société, 28(1), 37-51.
__________. (2005). Uma análise semiolinguística do texto e do discurso. Da língua ao discurso: reflexões para o ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007, 11-27.
__________. (2008). Linguagem e discurso: modos de organização. São Paulo: Editora Contexto.
Corrêa-Rosado, L. C. (2014). Teoria semiolinguística: alguns pressupostos. Revista memento, 5(2).
Costantin, A. C. C. (2001). Museus interativos de ciências: espaços complementares de educação?. Interciencia, 26(5), 195-200.
Moreira, J. A. (2019). Texto literário e modos de organização do discurso: uma análise semiolinguística do conto fantástico 'Sonata', de Erico Verissimo. Gragoatá, 24(50), 895-921.
De Souza, D. M. V. (2011). Ciência para todos? A divulgação científica em museus. Ciência da Informação, 40(2).
Delicado, A. (2004). Para que servem os museus científicos? Funções e finalidades dos espaços de musealização da ciência. In VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, Coimbra, Portugal (pp. 1-17).
Fernandes, R. D. C. (2013). Os objetos nos Museus de Ciências: entre originais e substitutos. Monografia, Faculdade de Ciência da Informação, Universidade de Brasília. Brasília, Brasil.
França, S. B., Acioly-Régnier, N. M., & Ferreira, H. S. (2011). Caracterização do perfil educacional e de mediação dos museus de ciências da Região Metropolitana do Recife. Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 8, 1-12.
Godoy, K. E.; Waizbort, H. H. (2021). SUJEITO-MUSEU: para além das estratégias comuni-cativas. Revista Museu. 1, s.p.
Godoy, K. E. (2010). Turistificação dos museus no Brasil: para além da construção de um produto cultural. Anais do Museu Histórico Nacional, 42, 197-209.
__________. (2015). Controvérsias do turismo como atividade sustentável em museus. Revista Museu. Rio de Janeiro.
__________. (2017). Godoy, K. E. (2017). Museus hostis, turistas hostilis: Controvérsias e caminhos da hospitalidade em instituições museológicas sob uma abordagem derridariana. In L. B. Brusadin (Org.). Hospitalidade e dádiva: A alma dos lugares e a cultura do acolhimento (pp. 261-280). Curitiba, PR: Editora Prismas.
Godoy, K. E., & Sanches, F. (2016). Turistas on-line: produção, distribuição e qualidade das informações para o turismo em museus. Seminário Serviços de Informação em Museus, 209-219.
Gohn, M. D. G. (2006). Educação não-formal na pedagogia social. In Proceedings of the 1. I Congresso Internacional de Pedagogia Social.
Gomes, R., & Tourinho, F. S. T. (2015). O gênero propaganda e seus efeitos de sentido: uma análise a partir da teoria semiolinguística. Revista de Estudos Acadêmicos de Letras, 8(1), 170-185.
Hall, S. (2006). A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A.
Jacobucci, D. F. C. (2008). Contribuições dos espaços não-formais de educação para a formação da cultura científica. Revista em extensão, 7(1).
Knobel, M., & Murriello, S. (2008). Exposições e museus de ciência no Brasil. ComCiência, (100).
Lamy, G. S., Alcoforado, L. F., Longo, O. C., & de Castro, E. B. P. (2019). Design inclusivo em centros e museus de ciências: um estudo no campus da Fiocruz, RJ, Brasil. Interciencia, 44(11), 629-636.
Lopes, M. M. (1991). A favor da desescolarização dos museus. Educação e sociedade, 40, 443-455.
Loureiro, J. M. M. (2003). Museu de ciência, divulgação científica e hegemonia. Ciência da Informação, 32, 88-95.
Marandino, M. (2001). Interfaces na relação museu-escola. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 18(1), 85-100.
__________. (2006). Perspectivas da pesquisa educacional em museus de ciências. A pesquisa em ensino de ciências no Brasil e suas metodologias.
__________. (2008). Educação em museus: a mediação em foco.
Brasil, Ministério do Turismo; Observatório Nacional de Turismo. Anuário Estatístico de Turismo 2021. Brasil: Ministério do Turismo, 2021. v. 48. Disponível em: < https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/observatorio/anuario-estatistico/anuario-estatistico-de-turismo-2021-ano-base-2020/anuario-estatistico-de-turismo-2021-ano-base-2020_divulgacao-compactado.pdf>. Acesso em 16 out. 2022.
Oliari, D. E., Almeida, M. A. C. D., & Bona, R. J. (2009). A mensagem pela imagem: análise semiótica das fotografias publicitárias da Coleção Verão 2007 da WJ Acessórios. In UNIASSELVI, Centro Universitário Leonardo Da Vinci, Indaial, SC. Intercom–Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul–Blumenau–28 a (Vol. 30).
Pauliukonis, M. A. L., & Gouvêa, L. H. M. (2012). Texto como discurso: uma visão semiolinguística. Revista Desenredo, 8(1).
Poulot, D. (2013). Museu e museologia. Autêntica.
Richards, G. (2009). Turismo cultural: padrões e implicações. Turismo Cultural: estratégias, sustentabilidade e tendências. UESC: Bahia, 25-48.
Roldi, M. M. Cancian, Silva, M. D. A. J., & da Silva Trazzi, P. S. (2018). Museus de ciência e o ensino por investigação-possíveis aproximações: relato de uma experiência. Educação em Perspectiva, 9(3), 793-810.
Salkeld, R. (2014). Como ler uma fotografia. Editorial Gustavo Gili.
Santos, C. A. D. (2019). A comunicação pela imagem. Monografia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Santa Catarina, Brasil.
Schuindt, C. C., & Silveira, C. (2021). Os desafios e as perspectivas da inclusão nos museus de ciências brasileiros. Interfaces Científicas-Humanas e Sociais, 9(1), 73-89.
Silva, W. C. D. (2009). Importância dos museus no processo de desenvolvimento turístico de Minas Gerais: uma análise do museu Mariano Procópio–Juiz de Fora–MG. Revista Eletrônica Patrimônio: Lazer & Turismo-ISSN, 700X.
Silva, A. F. (2021). Pandemia, museu e virtualidade: a experiência museológica no “novo normal” e a ressignificação museal no ambiente virtual. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, 29.
Staub, T. (2014). O papel dos museus e centros de ciências na divulgação científica: um estudo no estado do Paraná. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Paraná, Brasil.
Teixeira, J. M., Matos, L. M., & Perassi, R. (2011). Análise semiótica da imagem de uma cadeira. Estudos Semióticos, 7(2), 102-109.
Como analisar e entender uma imagem: uma leitura semiótica. Um diário acadêmico, 2009. Disponível em: < https://lizterra.wordpress.com/2009/10/08/como-analisar-e-entender-uma-imagem-uma-leitura-semiotica/>. Acesso em: 07 dez. 2022.
Valente, M. E. (2003). A conquista do caráter público do museu. Educação e museu: a construção social do caráter educativo dos museus de ciência. Rio de Janeiro: Access, 21-45.
Valente, M. E., Cazelli, S., & Alves, F. (2005). Museus, ciência e educação: novos desafios. História, ciências, saúde-Manguinhos, 12, 183-203.
Varine, H. D. (2012). Um instrumento do desenvolvimento: o museu. As raízes do futuro: o patrimônio a serviço do desenvolvimento local. Porto Alegre, Ed. Medianiz, 171-201.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Cenário: Revista Interdisciplinar em Turismo e Território

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
1. Proposta de Política para Periódicos de Acesso Livre
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
Autores mantém os direitos autorais e concedem a revista o direito de primeira publicação, sendo o trabalho simultaneamente licenciado sob a Creative Commons Attribution License o que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.
A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra revista.
Autores cedem os direitos de autor do trabalho que ora apresentam a apreciação do Conselho Editorial da Revista Cenário, que poderá veicular o artigo na Revista Cenário e em bases de dados públicas e privadas, no Brasil e no exterior.
Autores declaram que são integralmente responsáveis pela totalidade do conteúdo da contribuição que ora submetem ao Conselho Editorial da Revista Cenário.
Autores declaram que não há conflito de interesse que possa interferir na imparcialidade dos trabalhos científico apresentados ao Conselho Editorial da Revista Cenário.
Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.