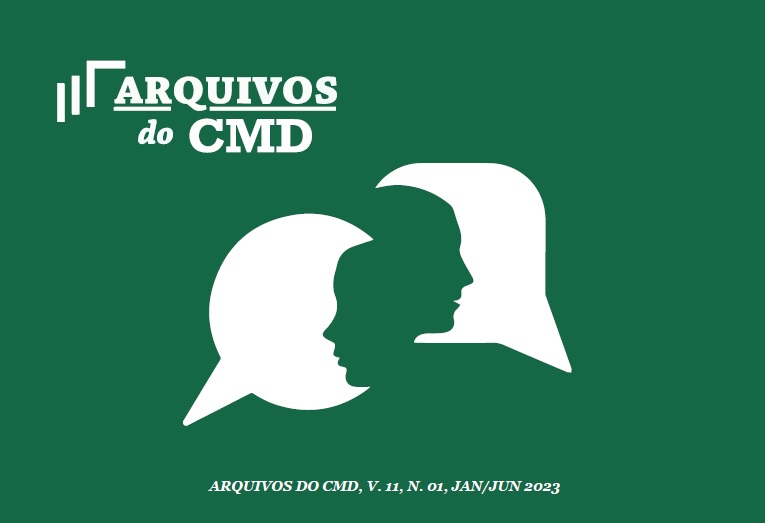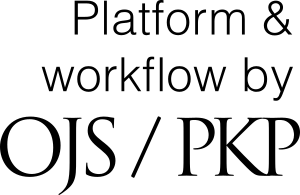A literatura de Rubem Fonseca como manifestação de intervalo de indeterminação
DOI:
https://doi.org/10.26512/cmd.v11i1.54337Palavras-chave:
Literatura, Rubens Fonseca, “Zona de indeterminação”, BrasilResumo
A concepção de “zona de indeterminação”, forjada pelo filósofo Henri Bergson (2010), explora os elementos que separam a percepção e a ação no sujeito, concebe, desta forma, o ser humano como um agente situado nesse intervalo. Para Bergson (2010), a subjetividade reside nessa lacuna, espaço em que a liberdade se manifesta. O Filosofo francês conecta a consciência percebida à liberdade de ação, proporcionando uma perspectiva sobre a interação temporal na existência humana. Essa abordagem influencia a arte, especialmente a literatura, como um meio de expressão de subjetividade. A produção literária de Rubem Fonseca pode exemplifica esse conceito, tomando como exemplo o conto Feliz ano novo (1975), nessa narrativa é possível perceber uma visão singular do autor sobre a violência urbana no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, a qual contribuiu, antecipadamente para análises sociológicas a respeito da cartografia dos conflitos sociais no Brasil nas décadas subsequentes.
Downloads
Referências
ALMEIDA, Leonardo Pinto. Literatura e subjetividade: reflexões sobre a linguagem e o exercício da liberdade. In: IV ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Salvador: Faculdade de Comunicação/ UFBA. 2008. Disponível em: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cult.ufba.br/enecult2008/14418.pdf. Acesso em 20 de janeiro de 2024.
BERGSON, Henri. A evolução criadora. Rio de Janeiro: Editora Delta. 1964.
BERGSON. Henry. Cartas a William James (Trad. Franklin Leopoldo e Silva). São Paulo: Editora Abril. 1979.
BERGSON. Henry. Matéria e memória. São Paulo: Martins fontes. 1999.
BERGSON. Henry. Matéria e memória. São Paulo: Martins fontes. 2010.
BOSI, Alfredo. Rubem Fonseca. In: O conto brasileiro contemporâneo. 2. ed. São Paulo: Cultrix. 1977, p. 239 a 250.
CHAUÍ, Marilena. Crítica e ideologia. In: Manifestações ideológica do autoritarismo brasileiro. Belo Horizonte: Autentica Editora; São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2014 (Escritos de Marilena Chauí,2). P 117 a 146.
DALCASTAGNÈ, Regina. Renovação e permanência: o conto brasileiro da última década. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea. [S. l.], n. 11. Brasília: UNB. 2011, p. 3–17. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/8865 . Acesso em: 29 jan. 2024.
DELEUZE, Gilles. Platão e o Simulacro. In: Logica do sentido. São Paulo: Editora Perspectiva. 2000. P. 259 a 271.
DUARTE. Selma Martins. A redemocratização nos discursos da Isto É. In: ANPUH – XXIV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA. São Leopoldo. 2007. Disponível em: https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548210561_c6385ca4268163c8e117a1846c9cf027.pdf. Acesso em 27 de setembro de 2023.
FONSECA, Rubem. Feliz ano novo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
HARTMANN, Julio Cesar Facina. O crime organizado no Brasil. Assis (SP): IMESA ()Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis. 2011. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/0611230215.pdf. Acesso em 29 de janeiro de 2024.
MACIEL JR, Alterives. A Consciência da Obra de Arte e o Devir-Outro do Criador. In: ROSA, Luiz Pinguelli; JOB, Nelson; MANDELLI, Rogerio; PORTUGUAL, Valeria. Transdisciplinariedade na Consciência: Artigos do encontro transdisciplinar da consciência. Rio de Janeiro: UFRJ. 2018, 9, 09 A 28.
NIETZSCHE, Friedrich. A genealogia da moral: uma polemica. São Paulo- SP: Companhia das letras. 1998.
NIETZSCHE, Friedrich. A visão dionisíaca do mundo: e outros textos da juventude. São Paulo: Martins Fontes. 2019.
NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos ídolos. São Paulo: Lafonte. 2018.
PAIVA, Rita. Subjetividade e imagem: A literatura como horizonte da Filosofia de Henri Bergson. São Paulo: USP. 2002.
PEREIRA, J. B.; NÓBREGA, J. M. da. Ecos da violência em vozes marginais: o brutalismo em Feliz ano novo, de Rubem Fonseca. Revista Guará - Revista de Linguagem e Literatura. v. 11, n. 1. Goiana: PUC-Goiás. 2024. p. 55–66, 2022. Disponível em: https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/guara/article/ view/8677. Acesso em: 30 jan. 2024.
PLATÂO. A República. São Paulo: Nova cultural. 2000.
PLATÃO. Fedro. Lisboa: Edições 70. 1997.
PODOROGA, Ioulia. Filosofia e poesia – os lugares da (não)subjetividade em Bergson e Pasternak. In: Marlon Salomon; Fábio Ferreira de Almeida. Pensar a filosofia francesa do século XX De Bergson e Rancière. Grand est (frança): Edições Ricochete. 2018. p.15-37, 2018. Disponível em: https://hal.science/hal-03581669/document
SILVA, Deonísio da. Rubem Fonseca: proibido e consagrado. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1996.
SILVA. Deonísio da. Nos bastidores da censura: Sexualidade, Literatura e Repressão pós-64. Barueri-SP. Amarils. 2010.
VAZ, Armindo dos Santos – A ideia de «ordem» nas Civilizações Pré-Clássicas e Clássicas. Revista Portuguesa de Ciência Das Religiões – Ano I, 2002 / n.º 1 – 13-32. Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos). 2002. Disponível em: https://www.oasisbr.ibict.br/vufind/Record/
RCAP_c30d21bafc5609968072590c4f4d3058
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Arquivos do CMD

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.