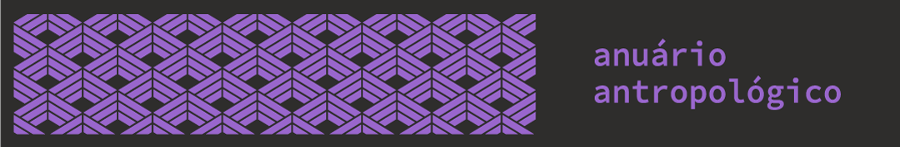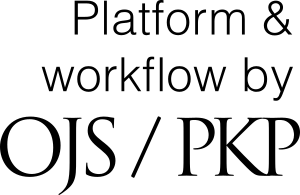Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil
por uma antropologia da territorialidade
Palavras-chave:
AntropologiaResumo
Neste artigo, o vínculo entre as diversidades fundiária e sociocultural no Brasil é analisado por meio de abordagem cosmográfica e histórica da territorialidade. As múltiplas fronteiras em expansão no Brasil Colonial provocaram inúmeros processos de resistência, fuga, mestiçagem e etnogênese por parte dos povos indígenas e negros escravizados, resultando em uma grande variedade de “territórios sociais” não reconhecidos formalmente. No século XX, as categorias territoriais de “Terras Indígenas”, “Remanescentes das Comunidades dos Quilombos” e “Reservas Extrativistas” foram criadas, as quais misturaram elementos do marco jurídico do Estado com as formas tradicionais de territorialidade. Nesse contexto, os regimes de propriedade comum, o pertencimento afetivo a lugares específicos e a memória coletiva desse pertencimento formam o cerne empírico do conceito de “povos tradicionais”, ao mesmo tempo que ele se transforma em uma categoria política usada endógenamente por povos indígenas, quilombolas, seringueiros, caiçaras e outros grupos para defender seus direitos territoriais.
Downloads
Referências
ALBERT, Bruce. 1995. O ouro canibal e a queda do céu: uma crítica xamânica da economia política da natureza. Série Antropologia, n. 174. Brasília: Departamento de Antropologia, UnB.
ALLEGRETTI, Mary Helena. 1994. Reservas extrativistas: Parámetros para uma política de desenvolvimento sustentável na Amazônia. O destino da floresta: reservas extrativistas e desenvolvimento sustentável na Amazônia. ARNT, R. (Ed.). Rio de Janeiro: Relume Dumará. p. 17-47.
ALMEIDA, Alfredo W. B. 2000. Os quilombos e as novas etnias. Revista Palmares, n. 5: 163- 182. Brasília: FCP, Ministério da Cultura.
______ . 1989. Terras de preto, terras de santo, terras de índio. Na trilha dos grandes projetos.
CASTRO, E.; HEBBETE, J. (Comps.). Belém: NAEA, UFPA. p. 163-196.
AMEND, Stephen; AMEND, Thora(Eds.). 1992. ¿Espaciossin habitantes? Parques nacionales de América del Sur. Caracas: Editora Nueva Sociedad.
ANDERSON, Benedict. 1991. Imagined communities: reflections on the origin and spread o f nationalism. Rev. ed. London: Verso.
ARAÚJO, Roberto. 1994. Manejo ecológico, manejos políticos: observações preliminares sobre conflitos sociais numa área do Baixo Amazonas. In: DTNCAO, M. A.; SILVEIRA, I. M. da (Orgs.). A Amazônia e a crise da modernização. Belém: MPEG. p. 301-308.
ARDREY, Robert. 1966. The territorial imperative: a personal inquiry into the animal origins of property and nations. New York: Atheneum.
ARHEM, Kaj. 1981. Makuna social organization: a study in descent, alliance, and the formation of corporate groups in the North-Western Amazon. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
ARNT, Ricardo et al.1998. Panará: a volta dos índios gigantes. São Paulo: Instituto Socioambiental.
ARRUTI, José Maurício Andion. 1998. Mocambo/Sergipe: negros e índios no artesanato da memória. Tempo e Presença, n. 298: 26-28, suplemento março/abril.
______ . 1997. A emergência dos “remanescentes”: Notas para o diálogo entre indígenas e quilombolas. Mana, n. 3(2): 7-38.
BAINES, Stephen Grant. E a Funai que sabe: a frente de atração Waimiri-Atroaria. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
BANDEIRA, Maria de Lourdes. 1991. Terras negras: invisibilidade expropriadora. Textos e debates, n. 1(2): 7-24. Florianópolis: Núcleo de Estudos sobre identidade e relações interétnicas.
BARRETTO FILHO, Henyo Trindade. 2001a. Da nação ao planeta através da natureza: uma abordagem antropológica das unidades de conservação de proteção integral na Amazônia brasileira. (Tese de doutorado) - Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Universidade de São Paulo.
______ ”¢ 2001b. Populações tradicionais: introdução à crítica da ecologia política de uma noção. Palestra apresentada no Workshop Sociedades caboclas amazônicas: modernidade e invisibilidade. Parati, RJ.
BARTOLOMÉ, Miguel Alberto. 1995. Movimentos etnopolíticos e autonomias indígenas en México. América Indígena, n. 55(1-2): 361-382.
BATESON, Gregory. 1972. Metalogue: What is an instinct. Steps to an ecology of the mind. New York: Ballantine. p. 38-58.
BECKER, Berta K. 1982. Geopolítica da Amazônia: a nova fronteira de recursos. Rio de Janeiro: Zahar.
BRAMWELL, Anna. 1989. Ecology in the 2(fh century: a History. New York: Yale University Press.
BRANDON, Katrina; REDFORD, Kent H.; SANDERSON, Steven E. 1998. Parks in Peril: people, politics, and protected areas. Washington, DC: Island Press.
BRITO, Maria Cecilia Wey de. 2000. Unidades de conservação: intenções e resultados. São Paulo: Annablume; FAPESP.
BROMLEY, Daniel W. 1989. Property relations and economic development: The other land reform. World Development, n. 17(6): 867-877.
______ â– (Ed.). 1992. Making the commons work: theory, practice, and policy. San Francisco: ICS Press.
CARNEIRO. Edison. 1966.0 quilombo de Palmares. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
CARVALHO, José Jorge. 1996. A experiencia histórica dos quilombos nas Américas e no Brasil. In: CARVALHO, J. J. (Org.). O quilombo do Rio das Rãs. p. 13-73.
CASIMIR, Micheál J. 1992. The dimensions of territoriality: an introduction. In: CASIMIR, M. J.; RAO, A. (Ed.). Mobility and territoriality. New York: Berg. p. 1-26.
CONKLIN, Beth A.; GRAHAM, Laura R. 1995. The shifting middle ground: Amazonian Indians and eco-politics. American Anthropologist, n. 97(4): 695-710.
CULTURAL SURVIVAL QUARTERLY. 1985. Parks and people, v. 9, n. 1, fev.
DIEGUES, Antonio Carlos. 1996. Repensando e recriando as formas de apropriação comum dos espaços e recursos naturais. In: VIEIRA, P. F.; WEBER, J. (Orgs.). Gestão de recursos naturais renováveis e desenvolvimento. São Paulo: Cortez Editora, p. 407-432.
DIEGUES, Antonio Carlos; ARRUDA, Rinaldo S. V. 2001. Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil. Brasília: Ministério do Meio Ambiente.
DELORIA JR., Vine. 1994. God is red: a native view of religion. Golden, CO: Fulcrum Publishing.
DESCOLA, Phillipe. 1994[1986], In the society o f nature: a native ecology in Amazonia.
SCOTT, N. trans. Cambridge: Cambridge University Press.
DI PAOLO, Pasquale. 1990[1985]. Cabanagem: a revolução popular da Amazônia. Belém: CEJUP.
DYSON-HUDSON, Rada; SMITH, Eric Alden. 1978. Human territoriality: an ecological reassessment. American Anthropologist, n. 80(1): 21-41.
ESTEVA FABREGAT, Claudi. 1996. Nacionalismos en Europa contemporanea. Palestra apresentada no Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília, 2 out.
FERNANDES, Florestan. 1989[1948]. A organização social dos Tupinambá. São Paulo: Editora Hucitec.
FOWERAKER, Joe. 1981. The struggle fo r land: a political economy of the pioneer frontier in Brazil from 1930 to the present day. Cambridge: Cambridge University Press.
FREGAPANI, Gelio. 1995. Amazônia 1996: soberania ameaçada. Brasilia: Thesaurus Editora.
FREITAS, Décio. 1973. Palmares: a guerra dos escravos. Porto Alegre.
GALLOIS, Dominique Tilkin. 1994. Mairi revisitada: a reintegração da Fortaleza de Macapá na tradição oral dos Waiãpi. São Paulo: FAPESP.
______ . 1986. Migração, guerra e comércio: os Waiapi na Guiana. São Paulo: FFLCH, Universidade de São Paulo.
GELLNER, EmesL 1983. Nations and nationalism. Ithaca, New York: Cornell University Press.
GODELIER, Maurice. 1986[1984]. The mental and the material. M. Thom, trans. London: Verso.
GOLDMAN, Irving. 1963. The cubeo indians o f the Northwest Amazon. Urbana: University o f Illinois Press.
GROVE, Richard H. 1995. Green Imperialism: colonial expansion, tropical island Edens and the origins of environmentalism, 1600-1860. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
HALL, Anthony. 1989. Developing Amazonia: deforestation and social conflict in Brazil’s Carajás programme. Manchester: Manchester University Press.
HILL, Jonathan D. 1996. Ethnogenesis in the Northwest Amazon: an emerging regional picture. History, power, and identity: ethnogenesis in the Americas, 1492-1992. In: HILL, Jonathan D. (Ed.). Iowa City: University o f Iowa Press, p. 142-160.
IIOLSTON, James. 1993.A cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. COELHO, M. (Trad.). São Paulo: Companhia das Letras.
INSTITUTO DE ESTUDOS AMAZÔNICOS E AMBIENTAIS (IEA). 1993. Projeto “Políticas Públicas para o Meio Ambiente” - Relatório narrativo final. Brasília: IEA; Fundação Ford.
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). 2001. Povos indígenas no Brasil: 1996/2000. São Paulo: Instituto Socioambiental.
LEIS, Héctor Ricardo; VIOLA, Eduardo. 1996. A emergência e evolução do ambientalismo no Brasil. O labirinto: ensaios sobre ambientalismo e globalização, H. R. Leis. São Paulo: Gaia; Blumenau: Fundação Universidade de Blumenau, p. 89-112.
LERNER, Daniel. 1958. The passing o f traditional society. New York: Free Press.
IJMA FILHO, Manoel Ferreira. 1998. Pioneiras da marcha para o Oeste: memoria e identidade na fronteira do médio Araguaia. (Tese de doutorado) - Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Universidade de Brasília.
LITTLE, Paul E. 2001. Amazonia: territorial struggles on perennial frontiers. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
______- 1992. Ecología política del Cuyabeno: el desarrollo no sostenible de la Amazonia. Quito: ILDIS; Abya-Yala.
______ ”¢ 1994. Espaço, memória e migração: por uma teoria de reterritorializaçâo. Textos de história, n. 2(4): 5-25. Brasília.
_______Ӣ 1995. Ritual, power and ethnography at the Rio Earth Summit. Critique o f Anthropology, n. 15(3): 265-288.
______ ”¢ 2000. O rio Maracá e o delta do rio Amazonas: entre o isolamento e a globalização. Ethos, n. 1(1): 63-81.
MALDONADO, Simone Carneiro. 1993. Mestres e mares: espaço e indivisão na pesca marítima. São Paulo: Anna Blume.
MALMBERG, Torsten. 1980. Human territoriality: survey of behavioral territories in man with preliminary analysis and discussion of meaning. Ilaia: Mouton.
MAYBURY-LEWIS, David. 1984[1974]. A sociedade Xavante. Rio de Janeiro: Francisco Alves.
McCAY, Bonnie J.; ACHESON, James M. (Eds.). 1987. The question o f the commons: the culture and ecology o f communal resources. Tucson: University o f Arizona Press.
McCORMICK, John. 1992[ 1989]. Rumo ao paraíso: a historia do movimento ambientalista. Rio de Janeiro: Relume-Dumará.
McGRATH, David; CALABRIA, Juliana; AMARAL, Benedito do; FUTEMMA, Celia;
CASTRO, Fabio de. 1993. Varzeiros, Geleiros, e o manejo dos recursos naturais na várzea do Baixo Amazonas. Cadernos do NAEA, n. 11: 91-125. Belém: NAEA, UFPA.
McNEELY. J. A.; HARRISON, J.; DINGWALL, Paul. 1994. Introduction: Protected areas in the modem world. Protecting nature: regional reviews of protected areas. In: McNEELY,
J. A.; HARRISON, J.; DINGWALL, P. (Eds.). Gland: 1UCN. p. 1-28.
MENDES, Chico. 1989. Fight fo r the forest: Chico Mendes in his own words. London: Latin American Bureau.
MENEZES, Maria Lúcia P. 2000. Parque Indígena do Xingu: a construção de um território estatal. Campinas: Editora Unicamp.
MORAN, Emilio F. 1974. The adaptive system of the Amazonian caboclo. Man in the Amazon. In: WAGLEY, C. (Ed.). Gainesville: University o f Presses o f Florida, p. 136-159.
MOREIRA NETO, Carlos de Araujo. 1988. índios da Amazônia, de maioria a minoria (1750-1850). Petrópolis: Vozes.
NEVES, Walter. 1992. Biodiversidade e sociodiversidade: dois lados de uma mesma equação. Desenvolvimento sustentável nos trópicos úmidos. In: ARAGON, L. E. Belém: UNAMAZ. p. 365-397.
NIMUENDAJÚ, Curt. 1942. The sherente. Los Angeles: Frederick Webb Hodge Anniversary Publication Fund.
NITSCH, Manfred. 1994. Riscos do planejamento regional na Amazônia brasileira: observações relativas à lógica complexa do zoneamento. A Amazônia e a crise da modernização. In: DTNCAO, M. A.; SILVEIRA, I. M. da. (Orgs.). Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi. p. 501-512.
NUGENT, Stephen. 1993. Amazonian caboclo society: an essay on invisibility and peasant economy. Providence: Berg.
OELSHCLAEGER, Max. 1991. The idea o f wilderness: from prehistory to the age of ecology. New Haven: Yale University Press.
OLIVEIRA, João Pacheco de. 1998. Uma etnologia dos “índios misturados”? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais. Mana, n. 4(1): 47-78.
______ . 1983. Terras indígenas no Brasil: uma tentativa de abordagem sociológica. Boletim do Museu Nacional, n. 44: 1-28. Rio de Janeiro.
______ . (Org.). 1999. A viagem da volta: etnicidade, política e reelaboração cultuai no Nordeste indígena. Rio de Janeiro: Contra Capa.
OLWIG, K. F. 1997. Cultural sites: sustaining a home in a deterritorialized world. Siting culture: the shifting anthropological object In: OLWIG, K. F.; HASTRUP, K. (Eds.). Londres: Routledge. p. 17-38.
PADUA, José Augusto. 2002. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
PARAJULI, Pramod. 1998. Beyond capitalized nature: ecological ethnicity as an arena of conflict in the regime o f globalization. Ecumene, n. 5(2): 186-217.
PARKER, E. 1985. Caboclization: the transformation o f the Amerindian in Amazonia 1615-1800. The Amazon caboclo: historical and contemporary perspectives. In: PARKER, E. (Ed.). Williamsburg, VA: College o f William and Mary. p. 1-50.
PEPPER, David. 1996. Modern environmentalism: an introduction. Londres: Routledge.
PIMENTA, José. 2002. índio não é tudo igual: a construção ashanika da história e da política interétnica. (Tese de doutorado) - Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Universidade de Brasília.
POLANY1, Karl. 1980 [1944]. A grande transformação. Rio de Janeiro: Editora Campus.
QUUANO, Aníbal. 1988. Modernidad, identidady utopia en América Latina. Lima: Sociedade e Política Ediciones.
RAFFEST1N, Claude. 1993 [1980]. Por uma geografia do poder. São Paulo: Editora Ática.
RAMOS, Alcida. 1998. Indigenism: ethnic politics in Brazil. Madison: University of Wisconsin Press.
______ . 1986. Sociedades indígenas. São Paulo: Editora Atica.
RIBEIRO, Darcy. 1970. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
RIBEIRO, Gustavo Lins. 1992. Ambientalismo e desenvolvimento sustentado: Nova ideologia/ utopia do desenvolvimento. Revista de Antropologia, n. 34: 59-101.
SACK, Robert David. 1986. Human territoriality: its theory and history. Cambridge: Cambridge University Press.
______ . 1980. Conceptions o f space in social thought: a geographic perspective. Minneapolis: University o f Minnesota Press.
SAHLINS, Marshall. 1997.0 “pessimismo sentimental” e a experiência etnográfica: por que a cultura não é um “objeto” em via de extinção. Mana, n. 3(1): 41-73 e (2): 103-150.
SCHWARTZMAN, Stephen; SANTILLI, Márcio. 1997. Indigenous reserves and land use change in the Brazilian Amazon. Brasilia: Instituto Socioambiental. Mimeo.
TUAN, Yi-fu. 1977. Space and place: the perspective o f experience. Minneapolis: University o f Minnesota Press.
VIANNA, Lucila Pinsard. 1996. Considerações críticas sobre a construção da idéia da população tradicional no contexto das unidades de conservação. (Dissertação de mestrado). Departamento de Antropologia: Universidade de São Paulo.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1992. Araweté: o povo do Ipixuna. São Paulo: CEDI.
WEST, Patrick C.; BRECHIN, Steven R. (Eds.). 1991. Resident peoples and national parks: social dilemmas and strategies in international conservation. Tucson: University of Arizona Press.
WRIGHT, Robin. 1992. Uma conspiração contra os civilizados: história, política e ideologias dos movimentos milenaristas dos Arawak e Tukano do noroeste da Amazonia. Anuário Antropológico, n. 89: 191-234.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2003 Anuário Antropológico

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.en
Creative Commons - Atribución- 4.0 Internacional - CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.en