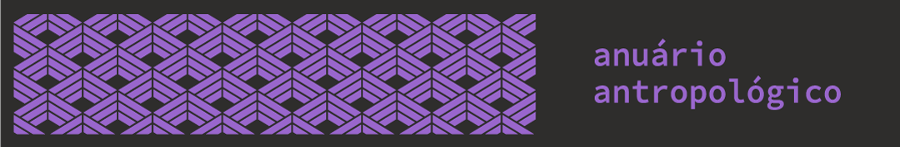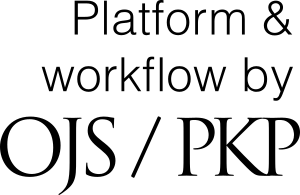A construção da imagem dos “Bravios” e a memória Aitkum
Palavras-chave:
AntropologiaResumo
A experiência colonizadora dos sertões nordestinos teve como objetivo principal a ocupação efetiva da terra a ser transformada em pastagens. Diante da contrariedade indígena, estabeleceram-se as guerras justas contra os índios de corso1. Sobressaíam-se aí os Cariris, que ocupavam uma faixa de terra que se estendia do rio São Francisco até a Serra do Ibiapaba, no Ceará. A primeira metade do século XVIII se caracterizou pela escravidão indígena e pela administração de missões por padres jesuítas. Já na segunda metade, ambos sistemas foram abolidos e criado o chamado Diretório dosíndios (para promover a integração dos índios à sociedade colonial), extinto ainda nesse século. No entanto, as chamadas “guerras indígenas” prolongaram- se durante toda a etapa colonial e somente em inícios do século XIX os sertões do Pajeú (onde está situada a Serra do Umã) começaram a ficar mais pacíficos. De fato, esse foi o século dos aldeamentos na região, quando os índios bravios começam a entregar suas armas e se estabelecer em missões como a do Olho d’Água da Gameleira (atual aldeia Olho d’Água do Padre, na Serra do Umã) ou a do Jacaré ou a de Baixa Verde. Já na passagem do século XIX para o XX, as idéias de “progresso” e “civilização” passam a ser levadas adiante. Em 1910 é fundado o Serviço de Proteção ao índio (SPI), marcado ideologicamente pela “idéia dos postos de atração e dos postos de pacificação para se colocar os índios em contato com o civilizado” (Rondon 1947).
Downloads
Referências
BARTH, Fredrik. 1975. Ritual and Knowledge among the Baktaman o f New Guinea. Oslo: Universitetsforlaget; New Haven: Yale University Press.
BOYARIN, Jonathan. 1994. “Space, Time, and the Politics of Memory”. In Remapping Memory: The politics o f TimeSpace (Jonathan Boyarin, org.). Minneapolis: The University of Minnesota Press, pp. 1-37.
COMAROFF, John e Jean Comaroff. 1992a. “Of Totemism and Ethnicity”. In Ethnography and the Historical Imagination. Boulder: Westview Press, pp. 49-67.
____. 1992b. “Ethnography and Historical Imagination”. In Etnhography and the Historical Imagination. Boulder: Westview Press, pp. 3-48.
FERRAZ, Alvaro. 1957. Floresta: memória de uma cidade sertaneja no seu cinqüentenário. Cadernos de Pernambuco n° 8. Recife: Secretaria de Educação e Cultura.
GRÜNEWALD, Rodrigo de Azeredo. 1993. "Regime de índio” e Faccionalismo: os Atikum da Serra do Umã. Dissertação de Mestrado. PPGAS/MN/UFRJ.
____. 1997. A Tradição como Pedra de Toque da Etnicidade. Anuário Antropológico/96: 113- 125.
____. 1999a. “Apresentando: índios e Negros na Serra do Umã”. In Brasil: um País de Negros? (J. Bacelar e C. Caroso, orgs.). Rio de Janeiro: Pallas; Salvador: CEAO. pp. 175- 185.
____. 1999b. “Etnogênese e ‘Regime de índio’ na Serra do Umã”. In A Viagem da Volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no nordeste indígena (J. P. de Oliveira, org.). Rio de Janeiro: Contra Capa. pp. 137-172.
GUSMÃO, Neusa Maria Mendes de. 1999. “Herança Quilombola: negros, terras e direito”. In Brasil: um País de Negros? (J. Bacelar e C. Caroso, orgs.). Rio de Janeiro: Pallas; Salvador: CEAO. pp. 143-162.
HOHENTHAL Jr. 1960. As Tribos Indígenas do Médio e Baixo São Francisco. Revista do Museu Paulista 12: 37-86.
LINNEKIN, Jocelyn e Lin Poyer. 1996. “Introduction”. In Cultural Identity and Ethnicity in the Pacific. Honolulu: University of Hawaii Press, pp. 1-16.
LOUKOTKA, Cestmir. 1968. Classification o f South American Indian Languages. Los Angeles: University of California.
OLIVEIRA, João Pacheco de. 1988. "O Nosso Govemo”: os Ticuna e o regime tutelar. São Paulo: Marco Zero; Brasília: CNPq.
____. 1999. “Uma Etnologia dos ‘índios Misturados’? Situação Colonial, Territorialização e Fluxos Culturais”. In A Viagem da Volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no nordeste indígena (J. P. de Oliveira, org.). Rio de Janeiro: Contra Capa. pp. 11-39.
REESINK, Edwin. 1999. “Urna Questão de Sangue”. In Brasil: um País de Negros? (J. Bacelar e C. Caroso, orgs.). Rio de Janeiro: Pallas; Salvador: CEAO. pp. 187-205.
RONDON, General Cândido M. S. 1947. “Histórico do Problema Indígena no Brasil e Debate de Várias Teses Correlativas”. In Coletânia de Leis, Atos e Memoriais referentes aos Indígenas Brasileiros Compilados pelo Oficial Administrativo L. Humberto de Oliveira (L. H. Oliveira, org.). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional e Ministério da Agricultura/ Conselho Nacional de Proteção aos índios (Publicação n° 94).
SAID, Edward W. 1995. Culture i e Imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras.
THOMAS, Nicholas. 1994. Colonialism's Culture: Anthropology, Travel and Government. Nova Jersey: Princeton University Press.
____. 1997. “The Inversion of Tradition”. In Oceania: Visions, Artifacts, Histories. Durham e Londres: Duke University Press, pp. 186-209.
TROUILLOT, Michel-Rolf. 1995. Silencing the Past: Power and production o f history. Boston: Beacon Press.
VANSINA, Jan. 1985. Oral Tradition as History. Madison: The University of Wisconsin Press.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 1999 Anuário Antropológico

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.en
Creative Commons - Atribución- 4.0 Internacional - CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.en