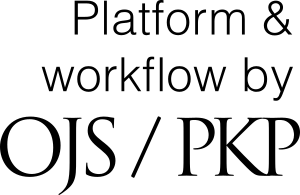A literatura de cordel e a alegoria da origem: rasura e transfiguração
DOI:
https://doi.org/10.1590/2316-40187410Palavras-chave:
literatura de cordel, discurso crítico, origemResumo
Neste artigo, analisamos estudos sobre a literatura de cordel publicados entre 1990 e 2020 para compreender o que tem sido dito sobre sua origem e explicar, com base em certas regularidades, como esses dizeres têm efeito sobre a própria constituição do objeto que tomam por referente. Além do critério cronológico, consideramos, na seleção dos trabalhos, o espaço de publicação e a autoria, privilegiando textos coletivos e individuais, de pesquisadores com experiência reconhecida publicamente no estudo do cordel, e veiculados em revistas eletrônicas indexadas, repositórios/catálogos de teses e dissertações on-line e livros. Podemos afirmar que não há consenso entre os estudiosos sobre a origem do cordel brasileiro. De modo geral, é possível divisar pelo menos três tendências no discurso crítico analisado: a vinculação historicista dos folhetos nordestinos a tradições europeias, sobretudo o romanceiro ibérico, geralmente marcada pelas ideias de matriz, fonte, influência e dependência; a negação de vínculos entre os folhetos nordestinos e produções semelhantes em Portugal e outros países, além da reivindicação de uma identidade autônoma para os impressos locais; e o abandono da noção de origem e afins em detrimento de outras, como circularidade cultural, entrecruzamento e hibridismo.
Downloads
Referências
ABREU, Márcia (org.) (2016). Romances em movimento: a circulação transatlântica dos impressos (1789-1914). Campinas: Editora da Unicamp.
ABREU, Márcia ([1999] 2011). Histórias de cordéis e folhetos. Campinas: Mercado de Letras. (Coleção Histórias de Leitura.)
ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz de (2013a). A feira dos mitos: a fabricação do folclore e da cultura popular (Nordeste 1920-1950). São Paulo: Intermeios.
ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz de (2013b). “O morto vestido para um ato inaugural”: procedimentos e práticas dos estudos de folclore e de cultura popular. São Paulo: Intermeios.
AMARAL, Amadeu ([1948] 1976). Tradições populares. 2ª ed. São Paulo: Hucitec.
AMORIM, Maria Alice (2019). Pelejas em rede: vamos ver quem pode mais. Recife: Zanzar Edições.
ASSMANN, Aleida ([1992] 2011). Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural. Tradução: Paulo Soethe (coord.). Campinas: Editora da Unicamp.
AYALA, Marcos; AYALA, Maria Ignez Novais (2006). Cultura popular no Brasil. 3ª ed. São Paulo: Ática.
BAKHTIN, Mikhail ([1965] 2020). A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. Tradução: Yara Frateschi Vieira. 7ª ed. São Paulo: Hucitec.
BARROS, José d’Assunção (2013). Retrodição – Um problema para a construção do tempo histórico. Ler História, Lisboa, v. 65, p. 129-155. https://doi.org/10.4000/lerhistoria.498
BARROSO, Gustavo (1915). Praias e várzeas: alma sertaneja. Rio de Janeiro: Francisco Alves.
BOSI, Alfredo ([1970] 2017). História concisa da literatura brasileira. 51ª ed. São Paulo: Cultrix.
BURKE, Peter ([2003] 2010). Hibridismo cultural. Tradução: Leila Souza Mendes. São Leopoldo: Editora Unisinos. (Coleção Aldus, 18.)
CANDIDO, Antonio ([1957] 2014). Formação da literatura brasileira: momentos decisivos (1750-1880). 15ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul.
CERTEAU, Michel de; JULIA, Dominique; REVEL, Jacques ([1974] 2017). A beleza do morto. In: CERTEAU, Michel de (org.). A cultura no plural. Tradução: Enid Abreu Dobránszky. 7ª ed. Campinas: Papirus. p. 55-85.
CHARTIER, Roger (org.) ([1985] 2011). Práticas da leitura. Tradução: Cristiane Nascimento. 5ª ed. São Paulo: Estação Liberdade.
DARNTON, Robert ([1984] 2014). O grande massacre dos gatos: e outros episódios da história cultural francesa. Tradução: Sônia Coutinho. 6ª ed. São Paulo: Paz & Terra.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix ([1980] 2011). Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Tradução: Aurélio Guerra Neto, Ana Lúcia de Oliveira, Lúcia Cláudia Leão e Célia Pinto Costa. 2ª ed. São Paulo: 34. v. 1.
DERRIDA, Jacques ([1967] 2011). Gramatologia. Tradução: Miriam Schnaiderman e Renato Janine Ribeiro. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva.
FOUCAULT, Michel ([1979] 2021). Microfísica do poder. Tradução: Roberto Machado. 11ª ed. São Paulo: Paz & Terra.
FREYRE, Gilberto ([1933] 2019). Casa-grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 51ª ed. São Paulo: Global.
FURTADO, Celso ([1959] 2007). Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.
GAGNEBIN, Jeanne Marie ([1994] 1999). História e narração em Walter Benjamin. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva. (Coleção Estudos.)
GALVÃO, Ana Maria de Oliveira (2000). Ler/ouvir folhetos de cordel em Pernambuco (1930-1950). Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
GALVÃO, Ana Maria de Oliveira (2005). A cultura popular como objeto de estudo: da “beleza do morto” à compreensão de sujeitos e práticas culturais. In: XAVIER, Libânia Nacif et al. (Org.). Escola, culturas e saberes. Rio de Janeiro: FGV. p. 106-138.
GALVÃO, Ana Maria de Oliveira (2022). Cordel. Transatlantic cultures. https://doi.org/10.35008/tracs-0083
GINZBURG, Carlo ([1976] 2003). O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. Tradução: Maria Betânia Amoroso. 3ª ed. São Paulo: Companhia das Letras.
HATA, Luli (1999). O cordel das feiras às galerias. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
HAURÉLIO, Marco (2010). Breve história da literatura de cordel. São Paulo: Claridade. (Coleção Saber de Tudo.)
IUMATTI, Paulo Teixeira (2012). História e folhetos de cordel no Brasil: caminhos para a continuidade de um diálogo interdisciplinar. Escritural - Écritures d’Amérique Latine, Poitiers, n. 6, p. 1-18.
JINZENJI, Mônica Yumi; MELO, Juliana Ferreira de (org.) (2017). Culturas orais, culturas do escrito: intersecções. Campinas: Mercado de Letras. (Coleção Histórias de Leitura.)
LANDER, Edgardo (org.) (2005). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Cidade Autônoma de Buenos Aires, Argentina: Clacso. (Colección Sur-Sur.)
LEMAIRE, Ria (2010). Pensar o suporte: resgatar o patrimônio. In: MENDES, Simone (org.). Cordel nas Gerais: oralidade, mídia e produção de sentido. Fortaleza: Expressão Gráfica. p. 67-93.
LUCIANO, Aderaldo (2012). Apontamentos para uma história crítica do cordel brasileiro. Rio de Janeiro: Adaga; São Paulo: Luzeiro.
MARQUES, Francisco Cláudio Alves; SILVA, Esequiel Gomes da (2020). A literatura de cordel brasileira: poesia, história e resistência. In: Literatura de cordel contemporânea: voz, memória e formação de leitor. Campinas: Mercado de Letras. p. 21-48.
MELO, Rosilene Alves de (2010). Artes de cordel: linguagem, poética e estética no contemporâneo. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 35, p. 93-102. https://doi.org/10.1590/2316-4018357
NIETZSCHE, Friedrich ([1874] 2005). Considerações intempestivas sobre a utilidade e os inconvenientes da história para a vida. In: NIETZSCHE, Friedrich. Escritos sobre história. Tradução, apresentação e notas: Noéli Correia de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola. p. 67-178.
PEREIRA, Edimilson de Almeida (2017). qvasi: segundo caderno. São Paulo: 34.
PRADO JR., Caio ([1942] 2011). Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras.
QUINTELA, Vilma Mota (2005). O cordel no fogo cruzado da cultura. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade Federal da Bahia, Salvador.
SANTIAGO, Silviano (1982). Apesar de dependente, universal. In: SANTIAGO, Silviano. Vale quanto pesa. Rio de Janeiro: Paz & Terra. p. 13-24.
SANTOS, Éverton Diego S. R. (2011). A reinvenção da tradição: a literatura de cordel no século XXI. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 26., 2011, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: Anpuh-SP. p. 1-15.
SILVA, Gonçalo Ferreira da (2011). Vertentes e evolução da literatura de cordel. 5ª ed. Rio de Janeiro: Rovelle.
SODRÉ, Nelson Werneck ([1963] 1979). Formação histórica do Brasil. 10ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
SOUZA, Eneida Maria de (2002). Crítica cult. Belo Horizonte: Editora da UFMG. (Coleção Humanitas.)
VEYNE, Paul ([1976] 1983). O inventário das diferenças: história e sociologia. São Paulo: Brasiliense. (Coleção Primeiros Voos, v. 16.)
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
a) Os(as) autores(as) mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, sendo o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons de Atribuição-Não Comercial 4.0, o que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.
b) Os(as) autores(as) têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
c) Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho on-line (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) após o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).
d) Os(as) autores(as) dos trabalhos aprovados autorizam a revista a, após a publicação, ceder seu conteúdo para reprodução em indexadores de conteúdo, bibliotecas virtuais e similares.
e) Os(as) autores(as) assumem que os textos submetidos à publicação são de sua criação original, responsabilizando-se inteiramente por seu conteúdo em caso de eventual impugnação por parte de terceiros.