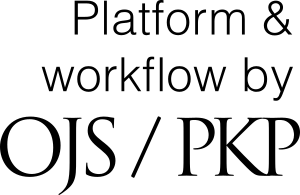Constelações pós-utópicas:
sobre a poesia de Haroldo de Campos
DOI:
https://doi.org/10.1590/2316-4018518Resumo
Se observado a partir da relação com o cânone, o trabalho criativo de Haroldo de Campos vai além do concretismo, sugerindo a existência de uma articulação entre a utopia de vanguarda e outra, mais amplamente voltada para o diálogo e reinvenção da tradição, a que se pode chamar utopia fáustica e que pode ser associada à pós-utopia, apresentada pelo poeta em Poesia e modernidade, da morte do verso à constelação, o poema pós-utópico. A partir de um movimento de revisão do princípio-esperança da vanguarda, das leituras que realiza da obra de Walter Benjamin, estimulado, ainda, pela leitura de Os filhos do barro de Octavio Paz, Haroldo de Campos defende nesse ensaio, como já fizera em ensaios anteriores, a necessidade de uma poesia da agoridade que atenda a um contexto pós-utópico. Assumindo posição distinta daquela proposta por parcela da fortuna crítica dedicada ao estudo da pós-utopia na obra haroldiana, que nota tom funesto em seus últimos poemas, em virtude do arrefecimento utópico, este artigo pretende levantar a hipótese de que talvez seja mais interessante tomar as relações entre utopia e pós-utopia em sua obra, dialeticamente, defendendo que ambas integram-se mutuamente e têm, na mobilização do passado, em sentido benjaminiano, uma chave interessante de leitura. Propõe-se, ainda, que a pós-utopia não seja abordada do ponto de vista da crise da poesia, mas, antes, como resposta e posicionamento do poeta em relação à crise, por isso marcadamente crítica e inventiva.
Downloads
Referências
ADORNO, Theodor. O ensaio como forma. In: ADORNO, Theodor. Notas de Literatura I. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 45-60.
AGUILAR, Gonzalo. Poesia concreta brasileira: as vanguardas na encruzilhada modernista. São Paulo: Edusp, 2005.
BARBOSA, Jorge Luiz. A cidade do devir na utopia de Thomas Morus. GEOgraphia, Rio de Janeiro, ano V, n. 10, 2003, p. 25-45.
BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1996. v. 1.
BLOCH, Ernest. El principio esperanza. Tradução de Felipe González Vicen. Buenos Aires: Aguilar, 1980. 3 v. (Biblioteca de Iniciación Filosófica).
BLOCH, Ernest. O princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider; Werner Fucks. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.
BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. Tradução de José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac & Naify, 2008.
CAMPOS, Augusto; PIGNATARI, Décio; CAMPOS, Haroldo de. Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos (1950-196). São Paulo: Ateliê, 2006.
CAMPOS, Haroldo de. O auto do possesso. Clube de Poesia, 1950.
CAMPOS, Haroldo de. Comunicação na poesia de vanguarda. In: CAMPOS, Haroldo de. A arte no horizonte do provável. São Paulo: Perspectiva, 1977a. p. 131-154.
CAMPOS, Haroldo de. Por uma poética sincrônica. In: CAMPOS, Haroldo de. A arte no horizonte do provável. São Paulo: Perspectiva, 1977b. p. 205-231.
CAMPOS, Haroldo de. Carta a David Jackson. São Paulo, 1º set. 1980.
CAMPOS, Haroldo de. Da razão antropofágica: diálogo e diferença na literatura brasileira. In: CAMPOS, Haroldo de. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 1992a. p. 231-257.
CAMPOS, Haroldo de. Minha relação com a tradição é musical. In: CAMPOS, Haroldo de. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 1992b. p. 257-269.
CAMPOS, Haroldo de. Um olhar sobre a América hispânica. Entrevista com o crítico e poeta Haroldo de Campos. (Entrevista a Rodolfo Mata). Jornal de Poesia, Fortaleza, 1994. On-line. Disponível em: <https://goo.gl/DBb9EQ> Acesso em: 20 jun. 2016.
CAMPOS, Haroldo de. Poesia e modernidade: da morte do verso à constelação. O poema pós-utópico. In: CAMPOS, Haroldo de. O arco-íris branco. São Paulo: Imago, 1997. p. 243-270.
CAMPOS, Haroldo de. A máquina do mundo repensada. São Paulo: Ateliê, 2000.
CAMPOS, Haroldo de. Galáxias. 2. ed. São Paulo: 34, 2004.
CAMPOS, Haroldo de. Bufoneria transcendental: o riso das esferas. In: CAMPOS, Haroldo de. Deus e o diabo no Fausto de Goethe. São Paulo: Perspectiva, 2005a.
CAMPOS, Haroldo de. The ex-centric’s viewpoint: tradition, transcreation, transculturation. In: JACKSON, Keneth David. Haroldo de Campos: a dialogue with the Brazilian concrete poet. Edited by David Jackson. Oxford: Centre for Brazilian Studies, 2005b. p.17-27.
CAMPOS, Haroldo de. Contexto de uma vanguarda. CAMPOS, Augusto; PIGNATARI, Décio; CAMPOS, Haroldo de. Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos (1950-196). São Paulo: Ateliê, 2006.
CANDIDO, Antonio. A formação da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Martins, 1959.
FRANCHETTI, Paulo. Funções e disfunções da máquina do mundo. O poeta Haroldo de Campos retoma assunto tratado por Camões e Drummond. Resenha de A máquina do mundo repensada. O Estado de S. Paulo, Caderno 2, 2000, p. 210, 24 set.
FRANCHETTI, Paulo. Alguns aspectos da teoria da poesia concreta. 4. Ed. rev. ampl. Campinas: Editora da Unicamp, 2012.
FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer e outros textos (1917-1920). Obras completas. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. v. 14.
GAGNEBIN, Jeanne-Marie. Limiar, aura e rememoração: ensaios sobre Walter Benjamin. São Paulo: 34, 2014.
HEISE, Eloáo. A lenda do doutor Fausto em relação dialética com a utopia. In: IZARRA, L. Z. (Org.). A literatura da virada do século: fim das utopias? São Paulo: Humanitas; Fapesp, 2001. p. 47-56.
JACKSON, Kenetth David. Haroldo de Campos and the poetics of invention In: JACKSON, Kenetth David. Haroldo de Campos: a dialogue with the Brazilian concrete poet. Edited by David Jackson. Oxford: Centre for Brazilian Studies, 2005. p. 17-27.
JACKSON, Kenetth David. A educação do sexto sentido: poesia e filosofia em Haroldo de Campos. Prefácio. In: CAMPOS, Haroldo de. Educação dos cinco sentidos. São Paulo: Iluminuras, 2013. p. 9-13.
JAKOBSON, Roman. Linguistics and poetics. In: SEBEOK, Theodor A. Style in language. Cambridge: MIT, 1960.
JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 2015.
LIMA, Luís Costa. Haroldo, o multiplicador. In: MOTTA, Leda Tenório da. Céu acima: um tombeau para Haroldo de Campos. São Paulo: Perspectiva, 2005.
LIMA, Luís Costa. O controle do imaginário & a afirmação do romance. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
MACHADO, Carlos Eduardo Jordão. Sonhos diurnos e geografia: sobre o princípio esperança de Ernest Bloch. Resenha. Trans/Form/Ação, Marília, v. 31, n. 1, 2009. p. 205-213. Disponível em: <https://goo.gl/jzH4gS.> Acesso em: 12 nov. 2015.
MACHADO, Irene. O filme que Saussure não viu: o pensamento semiótico de Roman Jakobson. Vinhedo: Horizonte, 2007.
MARTHA-TONETO, Diana Junkes. Haroldo de Campos e a utopia da escritura original. FronteiraZ, São Paulo, n. 9, 2012. p. 175-187.
MARTHA-TONETO, Diana Junkes. As razões da máquina antropofágica: poesia e sincronia em Haroldo de Campos. São Paulo: Editora da Unesp, 2014.
MORICONI, Italo. O pós-utópico: crítica do futuro e da razão imanente. Revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 84, jan./mar. 1986, p. 69-85
PAZ, Octavio. Literatura de fundação. In: PAZ, Octavio. Signos em rotação. São Paulo: Perspectiva, 1996a. p. 125-132.
PAZ, Octavio. Invenção, desenvolvimento, modernidade. In: PAZ, Octavio. Signos em rotação. São Paulo: Perspectiva, 1996b. p.133-139.
PAZ, Octavio. Os filhos do barro. São Paulo: Cosac & Naify, 2013.
PÉCORA, Alcir. Big Bang, sublime e ruína. In: MOTTA, Leda Tenório da. Céu acima: um tombeau para Haroldo de Campos. São Paulo: Perspectiva, 2005.
PERLOFF, Marjorie. Concrete prose: Haroldo de Campos Galáxias and after. 1996. Disponível em: <https://goo.gl/hnaNC4> Acesso em: 20 jul. 2016.
PERLOFF, Marjorie. Refiguring the Poundian ideogram: from Octavio Paz’s Blanco/Branco to Haroldo de Campos’s Galáxias. Modernist Cultures, v. 7, n. 1, 2012, p. 40-55. DOI: http://dx.doi.org/10.3366/mod.2012.0027
PERRONE, Charles. Seven faces: Brazilian poetry since modernism. London: Duke University Press, 1996.
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Altas literaturas. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
POGGIOLI, Renato. Teoría del arte de vanguardia. Tradução: Rodolfo Mata.Cidade do México: Universidade Autônoma do México, 2011.
POUND, Ezra. ABC da literatura. São Paulo: Cultrix, 1970.
SCHWARTZ, Jorge. Vanguardas Latino-americanas. São Paulo: Edusp, 2080.
SIMON, Iumna; DANTAS, Vinicius. Poesia ruim; sociedade pior. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 12, jun./dez. 1985.
SISCAR, Marcos. O tombeau das vanguardas: a “pluralização das poéticas possíveis” como paradigma crítico contemporâneo. Alea, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p. 421-447, jul./dez. 2014.
SISCAR, Marcos. Ciranda da poesia: Haroldo de Campos por Marcos Siscar. Rio de Janeiro: Eduerj, 2016.
TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012.
VIEIRA, Antonio Rufino. Princípio esperança e a herança intacta do marxismo em Ernest Bloch. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL MARX ENGELS, 5., Unicamp, 6 a 9 nov. 2007. On-line. Campinas: Cemarx. Disponível em: <http://www.unicamp.br/cemarx/anais_v_coloquio_arquivos/arquivos/comunicacoes/gt1/sessao6/Antonio_Rufino.pdf.> Acesso em: 10 nov. 2015.
WEINTRAUB, Fabio. O tiro, o freio, o mendigo e o outdoor: representações do espaço urbano na poesia brasileira pós-90. Tese (Doutorado em Letras) ”“ Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
a) Os(as) autores(as) mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, sendo o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons de Atribuição-Não Comercial 4.0, o que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.
b) Os(as) autores(as) têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
c) Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho on-line (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) após o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).
d) Os(as) autores(as) dos trabalhos aprovados autorizam a revista a, após a publicação, ceder seu conteúdo para reprodução em indexadores de conteúdo, bibliotecas virtuais e similares.
e) Os(as) autores(as) assumem que os textos submetidos à publicação são de sua criação original, responsabilizando-se inteiramente por seu conteúdo em caso de eventual impugnação por parte de terceiros.